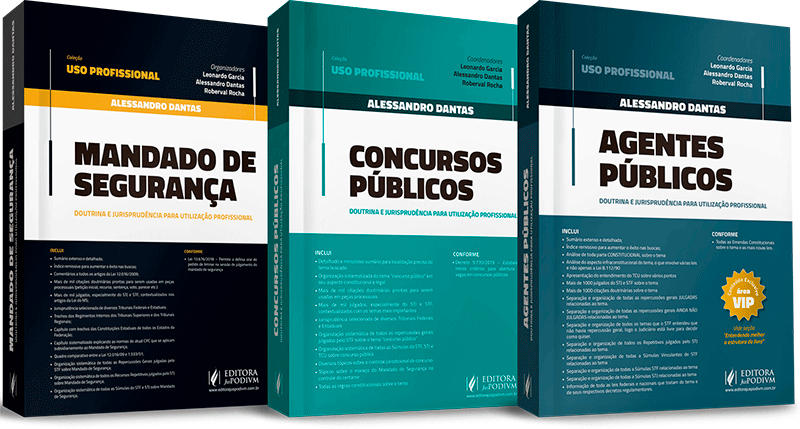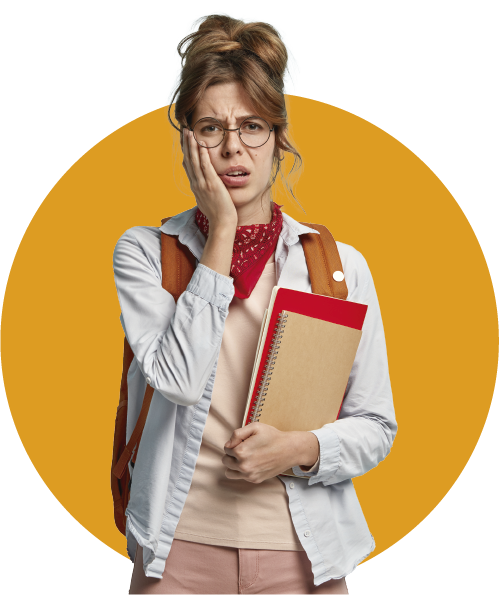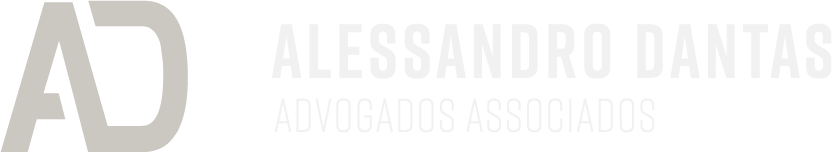1 – À guisa de introdução. Vamos refletir?
O que se pretende defender neste artigo vai contra quase toda jurisprudência pátria, mas, tenho certeza, que a questão nunca foi analisada sob o aspecto que será proposto e, por isso, mudando o ponto de partida, tem-se uma conclusão mais coerente e totalmente diferente das que são aplicadas muitas vezes de forma repetida e impensada.
Na verdade, muitas vezes, percebe-se que as decisões judiciais sequer possuem um ponto de partida, ou seja, uma premissa sobre a qual haverá o desenvolvimento e julgamento do caso, sendo repetições irrefletidas de decisões proferidas da mesma forma.
Cai-se naquilo que o saudoso filósofo, teórico do direito e tributarista BECKER[1] chamava de sistema de fundamentos óbvios, que, segundo o eminente jurista “o Direito Tributário está em desgraça e a razão deve buscar-se não na superestrutura – mais precisamente naqueles seus fundamentos que costumam ser aceitos como demasiado “óbvios” para merecerem a analise critica. Esclarecer e explicitar as premissas. O conflito entre as teorias jurídicas do Direito Tributário tem sua principal origem naquilo que se presume conhecido porque se supõe óbvio. De modo que de premissas iguais em sua aparência (a obviedade confere uma identidade falsa às premissas) deduzem-se conclusões diferentes porque cada contendedor atribuiu um diferente conceito as premissas “ óbvias”. Esta dualidade de conclusões deixa ambos os contendedores surpresos e perplexos (pois partiram das “ mesmas” premissas “ obvias”), sem que um possa convencer o outro da veracidade de sua respectiva conclusão.[2]
Mais adiante, arremata “certas teorias mostram-se facilmente inteligíveis e simples precisamente porque são edificadas sobre apenas um fragmento das bases integrais; e, quando destruídas pela análise, resta sempre um truncamento de coluna indestrutível (aquele fragmento) a lançar entre as ruinas a sua sombra enigmática de meia-verdade”.[3]
Ou, ainda, na frase de Joseph Goebbels[4], segundo a qual “uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade”. Em outra sustentação de efeito, assinala que: “a essência da propaganda é ganhar as pessoas para uma ideia de forma tão sincera, com tal vitalidade, que, no final, elas sucumbam a essa ideia completamente, de modo a nunca mais escaparem dela. A propaganda quer impregnar as pessoas com suas ideias. É claro que a propaganda tem um propósito. Contudo, este deve ser tão inteligente e virtuosamente escondido que aqueles que venham a ser influenciados por tal propósito nem o percebam.”
Vamos ver a realidade, para mostrar que o contexto induz o julgador muitas vezes a não ter tempo para apreciar adequadamente os fundamentos e provas que instruem o processo judicial, que mesmo auxiliado com assessores e estagiários ainda assim não dão conta do ingresso incontável das demandas decorrentes da porta quase sempre aberta da inafastabilidade da jurisdição, admitindo, com isso, um sem número de ações que não têm futuro, furtando-lhe o “tempo jurisdicional” daquele que é investido neste poder em detrimento da arte de se dedicar a estudar e aplicar o direito de uma forma coerente e racional.
O que é pior? Uma justiça que tarda e não falha ou a falha[5] que é rápida? Não há uma terceira via? Não entraremos neste debate, jurídico, social e filosófico, mas é um tema bom para uma análise em próximas reflexões e escritos, pois muitas injustiças podem e estão ocorrendo e talvez seja a hora de enfrentarmos este delicado assunto.
Mas, como dito, este ponto foi apenas uma introdução. Ingressaremos agora no que interessa no presente artigo onde contatar-se-á tal fenômeno ocorrendo de uma forma real e de forma rotineira, comum, tranquila, como se mais óbvio não poderia ser!
2. Prescrição judicial e seu significado.
Exigir um direito significa buscar o seu cumprimento forçado, pela via judicial. Essa aptidão para exigir o cumprimento de um direito subjetivo recebe o nome técnico de pretensão.
Em razão do prazo determinado pela lei dentro do qual o direito pode ser exigido, diz-se que a pretensão, quando do término do prazo, tem sua eficácia esvaziada. O fenômeno por meio do qual a pretensão é esvaziada de sua eficácia denomina-se prescrição.
Assinala DONIZETTE que a prescrição pode ser conceituada, destarte, como o ato-fato jurídico, consubstanciado na inércia do titular de um direito subjetivo por um certo lapso de tempo definido em lei, cuja consequência jurídica é o esvaziamento da eficácia da pretensão.[6]
Logo, a prescrição tem natureza de ato-fato jurídico porquanto se refere a uma conduta humana – omissiva – para a qual o Direito prescreve uma consequência sem que seja relevante a vontade do sujeito na prática do ato[7].
Dando completude ao raciocínio, o renomado autor capixaba MAZZEI[8], em artigo bem profundo sobre o tema, assevera que a prescrição foi mantida no Código Civil de 2002 dentro da estrutura consagrada: castigo à negligência, em prol do ‘interesse público’ (estabilização de determinadas situações jurídicas), cuja linha segue a jurisprudência pátria, conforme trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça[9] que bem sintetiza o tema ao asseverar que “a prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza das relações jurídicas, não permitindo que demandas fiquem indefinidamente em aberto”.
No mesmo sentido é a linha doutrinária de DIDIER[10], o qual assevera que a prescrição é o encobrimento ( ou extinção, na letra do art. 189 do Código Civil) da eficácia de determinada pretensão (perda do poder de efetivar o direito a uma prestação), por não ter sido exercitada no prazo legal. Apesar de decorrer de uma inércia do titular do direito – também ato-fato lícito caducificante -, não conduz à perda de direitos, faculdades ou poderes (materiais ou processuais), como a preclusão e a decadência, mas, sim, ao encobrimento de sua eficácia, à neutralização da pretensão – obstando que o credor obtenha a satisfação da prestação devida.
3. O “X” da questão.
Poderia o Estado do Espírito Santo estipular, por lei, um prazo prescricional para que um cidadão ajuíze determinada ação em face do mesmo em determinadas circunstâncias?
Poderia o Município de Vitória, por exemplo, alterar os prazos processuais para as demandas ajuizadas em face da fazenda municipal deste ente da Federação?
Por fim, poderia a União Federal criar prazos prescricionais judiciais próprios, ou seja, que só valem para ela, para o exercício de determinadas pretensões de quem direito possui sem que essa regra valesse para todos os demais entes da federação?
Esse é ponto nervoso do imbróglio que aqui pretendemos desamarrar e jogar um foco de luz sob uma nova ótica, que, ao que parece, ainda não foi analisada frente ao caso concreto que se apresentará, mas que, partindo das mesmas premissas, vale para qualquer situação assemelhada.
A questão toda, ao que parece, está mais relacionada ao Direito Constitucional do que propriamente ao manejo das regras processuais e materiais em si.
Trata-se, em verdade, de uma questão de competência legislativa atribuída pela Constituição Federal. A depender do tipo de competência legiferante dispor sobre prazos prescricionais poderemos, firmes nas premissas fixadas, chegar a uma conclusão coerente.
4. O ponto importante e o que leva a erro o interprete.
Cabe ressaltar, e iremos tratar disso com maiores detalhes mais a frente, que o signo “prescrição” é utilizado no direito com significações diferentes, podendo, até por isso, levar o interprete e aplicador da norma a erro!
O significado mais comum é o relacionado ao prazo que o titular de um direito possui para exercer o mesmo em juízo, ou seja, deduzir sua pretensão junto ao Poder Judiciário.
Relacionado a esta óptica, temos prazos prescricionais civis, prazos prescricionais penais, prazos prescricionais relacionados a demandas trabalhistas, eleitorais e, por fim, penais militares.
Veja que eles –os prazos prescricionais-, nesta concepção, estão relacionados ao tempo que o titular de uma pretensão ou que tenha legitimidade para defender um determinado direito (nos casos de legitimidade extraordinária) possui para ajuizamento de demandas perante o Poder Judiciário.
Existe a justiça comum (art. 125 da CF) e a federal, sendo esta última segmentada em uma que possui competências gerais (arts. 106/110 da CF) e outras especializadas (eleitoral (arts. 118/121 da CF), trabalhista (arts. 11/117 da CF) e militar (arts. 122/124 da CF).
As ações judiciais abrangidas pela amplitude jurisdicional de qualquer um destes órgãos do Poder Judiciário possuem seus respectivos prazos prescricionais, sem prejuízo de identidade em algumas situações.
Nem e argumente que existem outras áreas do direito material que não seriam trabalhista, eleitoral ou militar, civil ou penal, pois, independente disso, sem dúvida e exceção, seja qual for a matéria de fundo, serão elas julgadas, conforme o caso, em um destes órgãos jurisdicionais.
Se a questão envolve direito administrativo, a depender do caso, a lide pode ser julgada pela Justiça Estadual, Federal comum ou especializada. Imagina-se uma ação questionando a demissão ilegal de um servidor ou o pleito de nomeação de um candidato por ter passado no concurso dentro do número de vagas.
Perceba que a matéria de fundo, ou seja, de direito material, é totalmente de direito administrativo. Essa demanda poderia ser ajuizada na Justiça Comum sob o rito do procedimento comum caso a demissão ou o pedido de nomeação ocorresse em um órgão público municipal ou estadual ou na Justiça Federal não especializada caso o mesmo ocorra em órgão federal, seja ele independente do Poder emanado, pois o sujeito passivo da demanda seria a União Federal, que é quem detém personalidade jurídica para propor ou ser sujeito passivo em ações ordinárias.
Todavia, o mesmo caso, em se tratando em comportamento administrativo que tenha ocorrido no âmbito interno administrativo da Justiça Eleitoral, Trabalhista ou Militar também ensejaria a possibilidade do manejo de mandado de segurança em face do ato do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Trabalho, respectivamente no Tribunal Regional Eleitoral, do Trabalho ou Militar, questionando exatamente a mesma coisa.
O que se quer dizer é que estas “justiças especializadas” podem, a depender do caso, julgar demandas que não são tipicamente ligadas ao direito material ao qual não estão acostumadas a apreciar.
Certas ações já são mais restritas. Tudo depende do caso!
Em se tratando de uma demanda de reparação de danos, ou seja, responsabilidade civil do Estado, matéria de cunho essencialmente administrativo, ou o ajuizamento será na Justiça Comum (art. 125, CF) ou na Justiça Federal não especializada (art. 109, CF), não cabendo, neste caso, a dedução do pleito nas Justiças Federais Especializadas, pois, independe de quem praticou o ato, ou seja, se foi um servidor da Justiça do Trabalho ou um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, a pretensão reparatória será deduzida em face de quem possui legitimidade passiva para respondê-la e, neste caso, é a União Federal, a qual, para esta ação, só é possível responder perante a Justiça Federal não especializada, abarcando, inclusive, se for o caso, os juizados especiais federais. O mesmo vale para situações como a descrita se ocorrer no âmbito militar e eleitoral.
Perceba que todos os demais ramos do direito vão se enquadrar, de alguma forma, nestas justiças especializadas, podendo, conforme o caso, possuir prazos distintos prescricionais de acordo com a lei. Logo, questões sobre direito material comercial, ambiental, administrativo, previdenciário terão que se enquadrar dentro deste contingente, sendo o mais comum e mais aberto, o da Justiça Estadual, que é residual e da Justiça Federal não especializada.
E o prazo para o exercício do direito e ação estará ligado, de alguma forma, às regras processuais relacionadas à ativação do exercício pretensão por parte de quem possui uma pretensão perante algum destes órgãos jurisdicionais.
Logo, podemos concluir que o instituto prescrição possui enorme carga de direito processual, pois é no processo judicial que a mesma é declarada.
Vejamos, em âmbito do processo civil, algumas regras sobre o tema:
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.
Art. 921.
- 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.
O mesmo no processo penal:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
E assim também o é na Justiça Eleitoral:
Art. 358. A denúncia, será rejeitada quando:
II – já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
No mesmo caminhar enuncia a CLT:
Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.
- 2o A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.
Podemos, seguindo a linha do mestre capixaba MAZZEI[11], afirmar que a prescrição é um instituto bifronte que, segundo DINAMARCO[12], tal terminologia é usada, de forma mais habitual, para se referir a institutos que são tratados tanto pelo direito material, como o direito processual, como é o caso da prova e a coisa julgada, por exemplo.
Concordamos com Mazzei quando assevera, bem no ponto nevrálgico da questão, que:
No caso específico da prescrição, não há como negar a inserção de normas com repercussão processual no Código Civil de 2002, destacando-se:
(a) Artigo 193 – ao permitir a alegação da prescrição pelo interessado em qualquer grau de jurisdição;
(b) Artigo 194 (revogado pela Lei 11.280/06 – que trouxe também redação ao § 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973) – que dispunha que prescrição deveria ser tratada como matéria de exceção, não podendo o Judiciário suprir sua alegação, salvo para favorecer o absolutamente incapaz;
Artigo 202, I – ao prever que a interrupção da prescrição se dará pelo despacho do juiz que ordenar a citação.
Todavia, apesar da carga de direito material envolvida, o fato é que o prazo estabelecido está sempre ligado ao exercício da pretensão perante alguns dos órgãos jurisdicionais que acima elencamos. Logo, não obstante seu caráter bifronte, prevalece, quanto ao instituto da prescrição, sua natureza jurídica de norma de direito processual, mesmo que imbuída ou impulsionada por um direito material subjacente.
O fato é que a competência para legislar sobre tais matérias, até mesmo para que não haja um desencontro e uma crise na estabilidade do ordenamento pátrio, ferindo, desta forma, o magno princípio da segurança jurídica, só pode de ser um Ente da Federação que, quando exerce esta competência, o faz valendo para todos os demais entes da federativos.
No caso, cabe à União Federal legislar privativamente sobre o tema:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Perceba, portanto, a lógica do Ordenamento pátrio!
Não poderia ser diferente!
Não poderia haver prazos distintos dentro do mesmo segmento do direito, seja no âmbito que for, especialmente na jurisdição civil, que vai abarcar não apenas matérias de cunho cível e regida pela legislação privada, mas diversas outras, para efeitos de prescrição, como, por exemplo, o direito demandas relacionadas ao direito administrativo, comercial, ambiental etc.
Logo, parece coerente e firme estou nesta premissa, que as matérias relacionadas ao direito administrativo deverão se encaixar, quanto ao seu questionamento em juízo, às regras processuais, como, por exemplo, a prescrição, à legislação processual pertinente relacionada aos segmentos dos órgãos jurisdicionais existentes no ordenamento pátrio e seguir seus respectivos prazos definidos em lei
Por exemplo, se for uma demanda comum, pode-se afirmar que trata de um prazo prescricional cível. Já for um crime contra a Administração Pública, o prazo prescricional, relacionado ação penal, está ligado ao direito penal.
O que se quer dizer com isso? Ao contrário dos países que possuem um sistema de jurisdição dual, como é o típico caso da França, berço de nascimento do direito administrativo, diga-se de passagem, onde há, além da justiça comum, o “contencioso administrativo”, que é formado por Tribunais Administrativos cujas decisões possuem força jurisdicional e fazem coisa julgada, aqui, no Brasil, os órgãos julgadores pertencentes à estrutura administrativa pátria não possuem poder jurisdicional, suas decisões não fazem coisas julgada, podendo, portanto, serem revistas pelo Poder Judiciário.
Logo, por inexistir em nosso País um sistema de “dupla jurisdição”, o ajuizamento de demandas relacionadas ao direito administrativo estará contido dentro do abrangente campo prescricional do direito civil, penal, eleitoral ou trabalhista, cuja competência legislativa, repita-se, é privativa da União Federal.
5. Da dupla competência legislativa da União Federal.
Todavia, e este é o ponto mais importante para a resolução do problema, tem-se aqui que fazer uma distinção muito importante sobre a competência legiferante da União Federal.
O que se quer dizer com isso? Veja o Brasil adotou o regime federativo de Estado, de modo que se tem os Municípios, Estados e União e que deve haver toda uma legislação para reger a estrutura organizacional, regime funcional, regras de processo administrativo, dentre diversas outras competências que todos podem legislar e, consequentemente, exercer a função administrativa nestes termos.
Não teria sentido a União legislar sobre o regime funcional, suas peculiaridades, de um município! O mesmo em relação ao seu processo administrativo interno.
Por isso, neste ponto, a União, Estados e Municípios exercem a competência legislativa de forma própria e comum estabelecendo regras próprias disciplinando estas questões internas com total autonomia, desde que não violem regras constitucionais. Neste contexto, não há hierarquia entre as leis Federais, Estaduais e Municipais, e, neste ponto, magnífica a lição de José Souto Maior Borges quando, em iluminado momento de inspiração, toca com delicadeza no ponto chave da questão ao afirmar que[13]:
Ao contrário, a afirmação de que não há hierarquia entre leis ordinárias federais, estaduais e municipais representa, em todo rigor, um corolário, desdobramento ou inferência do princípio de isonomia das pessoas constitucionais. Mero aspecto particular da expansão desse princípio constitucional basilar. A conclusão decorre do modo de atuação do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas. A técnica constitucional brasileira adotou o expediente de repartir, por campos privativos, a competência legislativa das pessoas constitucionais. Só excepcionalmente a competência legislativa é concorrente, posto não cumulativa (v. g., CF, art. 8.º, parágrafo único) ”.
Em seguida, enfatiza “que não há desnivelamento e, portanto, hierarquização, considerada como uma relação de supra (supremacia) e subordinação, vínculo entre normas jurídicas de graus diversos, no campo da legislação ordinária das pessoas constitucionais, mas, sim, uma repartição de competências legislativas, estabelecida na própria Constituição. Todas as pessoas constitucionais são igual e unicamente subordinadas à Constituição. As leis ordinárias da União, Estados-membros e Municípios retiram a sua validade da conformação com a Constituição Federal”.[14]
Por outro lado, à parte de seus interesses próprios e da “arrumação da casa” de cada uma destas pessoas políticas, a União também exerce sua competência legiferante como Nação e em prol de toda coletividade, sendo, neste caso, detentora de competência legislativa impositiva para todos os entes da Federação, quando se tratar de normas de direito público e a todos os cidadãos brasileiros quando se tratar de normas de direito penal, civil, trabalhista, dentre outras.
Aqui, quando o Congresso Nacional exerce a competência legiferante com esta finalidade, faz-se necessária uma distinção, infelizmente não tão bem tratada pela nossa Constituição Federal, porém reconhecida pela doutrina e jurisprudência, de que ela – a União -, não está mais atuando como legislador federal, mas sim legislador nacional.
Isso decorre de nosso regime republicano federativo[15].
Dissertando sobre esta capacidade complexa inerente à personalidade do Estado Federal, registra que há leis federais (ou da União), estaduais (ou dos Estados) e municipais (ou dos Municípios, dirigidas às pessoas na qualidade de administrados da União, dos Estados e dos Municípios e emanadas dos Legislativos dessas entidades políticas, respectivamente. E há leis nacionais, leis brasileiras, voltadas para todos os brasileiros, indistintamente, abstração feita da circunstância de serem eles súditos desta ou daquela pessoa política. É que o Estado Federal brasileiro é pessoa de direito público internacional, categoria esta que nenhuma relação guarda com as eventuais divisões políticas internas. É o Brasil –Estado brasileiro – pessoa soberana que figura, ao lado dos demais Estados do mundo, no palco do Direito das Gentes. Ê a perspectiva “exterior” ou de “efeitos exteriores” da personalidade jurídica do Brasil Estado brasileiro.[16]
E prossegue o grande jurisconsulto: “Por outro lado, o Estado Federal brasileiro é formado pela aliança, pela união dos diversos Estados federados. Tem, portanto, os mesmos súditos e o mesmo território, sendo que o instrumento do pacto federal – do “tratado de união” – é, concomitantemente, por exigência lógica, a constituição da nova pessoa assim nascida, o Estado Federal, o Brasil”.
E, por fim, arremata:[17]
Esta nova pessoa, criada pela reunião das diversas pessoas federadas, tem atribuições, competências e finalidades próprias, distintas das dos entes que a compõem. Daí a necessidade de ser dotada de órgãos e instrumentos capazes de habilitá-la ao desempenho de seu múnus constitucional próprio, que se não confunde com o das demais.
Deve-se, nela, entretanto, distinguir a feição ou o aspecto nacional do aspecto federal –em oposição a federado. Seus órgãos são alternativa ou cumulativamente nacionais (vale dizer, brasileiros) e federais (vale dizer, da União), pessoa que se não confunde com Estado federado algum. Seus instrumentos, entre os quais a lei, não são, concomitantemente, nacionais e federais. São-no, exclusivamente, uma ou outra coisa.
O Congresso Nacional, no nosso sistema, é concomitantemente órgão do Estado Federal brasileiro e da União. O produto de sua atividade legiferante, porém, será lei nacional ou simplesmente federal, conforme ele atue nesta ou naquela qualidade.
O mesmo se diga do Executivo. É nacional, quando exerce funções do Estado Nacional; simplesmente federal, quando funciona como órgão da pessoa União.
Muito embora a terminologia que se tem à disposição não auxilie – mas, pelo contrário, dificulte extremamente – a nítida visão destas marcantes diferenças, a realidade ontológica da Federação é inexoravelmente esta.
Por isso, diz Pontes de Miranda, para o povo, como para o Direito das Gentes, o Estado federal e o Estado unitário são o mesmo Estado; apenas, internamente, há a cisura “governo geral”–”governos regionais”.[18]
Diz o saudoso professor a raiz da referida distinção decorre da natureza jurídica do Estado Federal. Segundo o culto doutrinador:
A raiz da distinção está na natureza jurídica do Estado Federal, que engendra uniu problemática complexa e “sui generis” que, entretanto, se não for enfrentada com decisão, poderá conduzir o estudioso de um sistema tributário federal, tão rigoroso quanto o nosso, à mais desconcertante perplexidade, diante de questões elementares como esta das normas gerais de Direito Financeiro e Tributário.
A Federação é fenômeno histórico que não foi perguntar aos juristas que complicações viria trazer ao Direito Constitucional. Solução política genial, lastreada em estudos jurídico-políticos notáveis, que anteciparam o debate de alguns dos capitulares problemas que levantaria, estudos esses procedidos por inteligência do gabarito de Hamilton, Jefferson e Jay, compendiados no histórico “The Federalist”, foi adotada com bastante felicidade pela União Americana.
O rigoroso exame científico do sistema, entretanto, e a sua definição e explicação jurídica ficaram a cargo dos pensadores do Direito.
Não podemos, aqui, discutir em profundidade a natureza jurídica do Estado Federal, tema que foge aos limites deste estudo e que foi aprofundado por ínclitos escritores nacionais e estrangeiros. Basta-nos – sem maior discussão – manifestar nossa opção pela teoria explicadora da natureza do Estado Federal exposta por Kelsen, antes “esboçada em Haenel, sustentada por Meyer, desenvolvida por Gierke, acolhida por Bornhak” e inteligentemente combatida, no Brasil, entre outros, por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.
Adeptos das concepções do ilustre Chefe da Escola de Viena – sobretudo no confronto de suas teorias com suas aplicações a casos concretos é na discussão de problemas tais como o que ora nos retém que mais nos convencemos da genialidade de sua tese e harmonia de suas conclusões.
Sobre o tema, traz-se à baila, com precisão cirúrgica, a preciosa lição de Geraldo Ataliba fazendo a correta distinção de Leis Federais e Leis Nacionais[19].
O Congresso é legislativo nacional e faz a lei nacional, a lei brasileira, que transcende às contingências regionais e locais. Sob esta perspectiva não importa ao legislador, ou ao destinatário, a eventual vinculação deste último às sociedades políticas menores.
São, com efeito, nitidamente distintas a lei nacional e a lei federal, estando seu único ponto de contato na origem comum: o legislador comum.
Contribui, sem dúvida, para tornar muita vez difícil o discernimento entre ambas, também, a circunstância de confundirem-se fisicamente os destinatários das normas. Juridicamente, entretanto, o discrímen é rigoroso e nítido. As pessoas recebem as normas nacionais na qualidade de jurisdiciona- dos (“ lato sensu” ) do Estado brasileiro; na qualidade de súditos do Estado federal.
Mais adiante, assevera:
Já a lei nacional é muito mais ampla e, como dito, transcende às distinções estabelecidas em razão das circunscrições políticas e administrativas.[20]
A lei nacional, categoria jurídico-positiva diversa, é o produto legislativo do Estado nacional, total, global.
Vige no território do Estado brasileiro, vinculando todos os sujeitos à sua soberania, abstração feita de qualidades outras que possam revestir. Esta lei faz abstração da circunstância de ser o Brasil estado unitário ou federal.
Em termos práticos, a lei federal se opõe à lei estadual e à municipal, enquanto que a lei nacional abstrai de todas elas — federal, estadual e municipal — transcendendo-se.
(…)
Destarte, pode-se distinguir perfeitamente, no rol do n. XVII, do art. 8ª as leis nacionais, das federais. São leis nacionais, de maneira geral, quase todas as expressamente arroladas no n. XVII.
O texto trata do sistema constitucional de 1967.
O referido artigo 8º, n. XVII, estipula as seguintes competências que são exercidas pela União Federal a título de Legislador Nacional, nos interessando para o caso em estudo a alínea “b”:
Art 8º – Compete à União:
XVII – legislar sobre:
- a) a execução da Constituição e dos serviços federais;
- b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, aéreo, marítimo e do trabalho;
Perceba que esta regra foi repetida pela atual Constituição Federal em seu artigo 22, inciso I. No exercício desta competência de legislador nacional a União Federal exerce sua atividade legiferante sobre temas impositivos para todo País, seja para o destinatário que for. Dentre estas matérias destaca-se, desde constituições anteriores: Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Salvo a existência de Lei Complementar a autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas, cuja competência seja privativa da União, aqueles, e inclusive a própria União, devem seguir as regras decorrentes do exercício da competência da atividade legiferante nacional, como nas hipóteses acima, sem distinção, seja a que for, entre eles!
Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2220 SP onde foi declarada a inconstitucionalidade de Lei Paulista que estabelecia crimes de responsabilidade e seu processo.
Vejamos a ementa do referido julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
- Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São Paulo.
- A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes.
Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão “ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial” do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
- Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente.
Percebe-se do referido julgado que se tratam de normais federais especiais, que nada mais são que leis nacionais.
Veja trecho do julgado onde é citado parecer do Procurador Geral da República:
Nas palavras do Procurador-Geral da República, “da conjugação dessas regras constitucionais, infere-se que somente lei especial votada pelo Congresso Nacional – e, portanto, federal – pode definir crimes de responsabilidade e fixar regras processuais e de julgamento para punir os seus autores. Vale[ndo] frisar [que se trata] de competência privativa da União” (fl.180, grifos no original).
Mais adiante, informando qual lei nacional trata do assunto, assevera a relatora:
“De se destacar que a lei nacional especial a que se refere o parágrafo único do art. 85 da Constituição da República é Lei n. 1.079/1950, que, apesar de ter sido recepcionada pela ordem constitucional vigente (ADI 1.628/SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006; MS 24.297/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 14.2.2003; MS 21.564/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 27.8.1993; e MS 21.623/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.5.1993), foi descumprida pelo constituinte decorrente paulista…”
Diversos são os precedentes sobre o tema: E, ainda: ADI 1.628/SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006; ADI 2.235-MC/AP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 7.5.2004; ADI 2.050/RO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 2.4.2004; ADI 1.901/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 9.5.2003; ADI 1.225-MC/PE, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 4.8.1995; e ADI 4.190-MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 3.8.2009.
Há também súmula editada por este Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: “Súmula 722: São da Competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento”.
O instituto da prescrição, pelo menos no significado de prazo para ajuizamento de ação, está induvidosamente ligado ao direito processual, civil, penal e outras disciplinas de direito material cuja competência legiferante é da União Federal como legisladora Nacional.
Nada impede que dentro de uma lógica, porém que valha para todos, haja regras específicas que poderão prevalecer sobre as gerais ou até mesmo ensejar uma falsa antinomia.
Vejamos um exemplo: o prazo para reparação de danos pelo código civil é de 3 (três) anos, porém já existia no ordenamento pátrio uma norma, no caso o Decreto 20.910/32, recepcionado com força de lei ordinária, que estipula um prazo de 5 (cinco) para o ajuizamento de demandas em face do Poder Público de todos os entes da federação.
Veja o abrangente alcance normativo do artigo primeiro da norma em comento:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
O Superior Tribunal de Justiça[21], pondo uma pá de cal na divergência doutrinária existente à época, julgando a matéria a título de Recurso Repetitivo, assentou a tese que ações de reparação de danos em face do Poder Público prescrevem em 5 (cinco) anos, prevalecendo, neste caso de antinomia, a regra específica sobre aa geral.
6. O caso da Lei 7.144/83 e o grande erro hermenêutico existente ao tratá-la como norma específica em relação ao Decreto 20.910/32. Não recepção pelo Ordenamento Constitucional de 1988.
A Lei 7.144/83 estabelece que
Art. 1º Prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA E NAS AUTARQUIAS FEDERAIS.
Em uma análise rápida e sem atenção, o interprete dirá, como é pacífico na jurisprudência pátria, pois não encontrei absolutamente nenhum julgado em sentido contrário, que tal norma é específica em relação ao questionamento de atos relativos a concursos públicos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal e nas Autarquias Federais e, por isso, prevalece sobre a regra geral do Decreto 20.910/32.
Esse entendimento, infelizmente, é “pacífico no STJ” e nos Tribunais Regionais Federais!
Só que, ao contrário do exemplo da ação de reparação de danos, aqui, no caso desta Lei que estipula prazo prescricional próprio para ajuizamento de demandas questionando atos relativos a concursos públicos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal e nas Autarquias Federais há um pequeno detalhe que, infelizmente, tem passado desapercebido pelo Poder Judiciário!
A competência para legislar sobre prescrição judicial é decorrente da competência de legislador nacional da União e não Federal, pois trata de temas de direito civil, penal e processual, logo, a norma em comento para que fosse formalmente válida e, de fato, específica e prevalecente sobre o Decreto 20.910/32 deveria estipular tal prazo para o ajuizamento de ações com o objetivo que questionar atos relativos a concursos públicos para provimento de cargos e empregos não apenas referente à Administração Federal e nas Autarquias Federais, mas a todos os entes da federação, pois, como dito, tal competência a União não exerce a título de legislar federal.
Logo, há de se concluir que tal norma não foi recepcionada pela atual Constituição por um vício de inconstitucionalidade formal, pois a referida regra de natureza eminentemente processual que para todos entes deveria valer, restringiu-se apenas à Administração Federal e nas Autarquias Federais.
7. Por fim e para não haver confusão!
Como dito no início deste trabalho, o signo “prescrição” é plurissignificativo, ou seja, comporta mais de um significado. Logo, quando falamos em prazo que a Administração possui para punir internamente determinado servidor ou um particular, a título de exercício do poder de polícia, tal prazo também é, equivocadamente, chamado de prescricional, porém com outro significado, pois trata-se de procedimento interno da Administração.
Todavia, aqui, não se estar a falar de prazo para ajuizamento de demanda, mas para a prática de atos internos, que em nada tem a ver com a prescrição judicial. Neste caso, trata-se de processo administrativo e, como em tal matéria a competência concorrente, cada ente da federação possui competência legislativa para estipular estes “prazos prescricionais”.
Logo, veja a diferença, quando a União na Lei 8.112/90 estipula um prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias para aplicação de advertência, 2 (dois) anos para suspensão e 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva disciplinar de demissão. Perceba que se tratam de prazos internos e, neste ponto, cada Ente da Federação possui legitimidade para definir o seu, pois aqui, no caso da União, ela exerceu sua competência legislativa como legislador federal e não nacional.
O mesmo em relação à Lei 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública FEDERAL, direta e indireta, decorrente do exercício do Poder de Polícia em 5 (cinco) anos.
Perceba que estas regras só valem em âmbito federal, pois foram feitas no exercício da competência legislativa federal e não nacional. A prescrição da lei 8.112/90 e da Lei 9.873/99 não tem absolutamente nada a ver com a prescrição JUDICIAL e INCONSTITUCIONAL prevista na lei 7.144/83, a qual, como dito, não foi recepcionada e é inconstitucional, valendo, portanto, para o questionamento de atos referentes aos concursos públicos federais, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/32, esta sim, norma nacional e recepcionada pela atual Constituição Federal.
- O mais interessante e à guisa de conclusão.
O pior de tudo é que tal norma vem sendo aplicada de forma mansa e pacífica e nunca se questionou estes pontos aqui enfrentados.
Se refinarmos uma pesquisa no site do STJ encontrar-se-á 22 (vinte e dois) julgados, dois quais os 10 (dez) mais recentes são Agravos Regimentais em Agravo de Recurso Especial, ou seja, a matéria sequer chegou a ser analisada no mérito, os que analisaram o caso tratava do prazo para nomeação e souberam fazer a distinção – pelo menos isso – e aplicaram o Decreto n.º 20.910/32. De todos os 22 (vinte e dois julgados) 20 (vinte são de Turmas) e apenas 2 (dois) são da 3ª Sessão, que são Mandados de Segurança, um do ano de 2002 (MS 7373) e outro do ano de 2000 (MS 6570). Este último, analisando o julgado percebe-se que não se aplicou a referida regra, pois não se tratava de concurso público e o primeiro (MS 7373) a decisão que decretou a prescrição, quanto à fundamentação, se limitou a menos de uma lauda! Outros não foram analisados sob o fundamento que a inconstitucionalidade da referida lei caberia ao STF aferir e não ao STJ. Em poucas e curtas palavras: a matéria nunca foi seriamente debatida!
[1] Teoria Geral do Direito Tributário, Alfredo Augusto Becker, p. 12.
[2] Ver, a este respeito, as agudas e interessantes observações de N. Bobbio, Teoria della Scienza Giuridica, Torino, 1950, pp. 200-36, principalmente pp. 220-30
[3] Teoria Geral do Direito Tributário, p. 15.
[4] Paul Joseph Goebbels (alemão: [ˈɡœbəls]; 1] Rheydt, 29 de Outubro de 1897 – Berlim, 1 de Maio de 1945) foi um político alemão e Ministro da Propaganda na Alemanha Nazista entre 1933 e 1945. Um associado e devoto apoiante de Adolf Hitler, ficou conhecido pelas suas capacidades oratórias em público e pelo seu profundo e fanático antissemitismo, e sua crença na conspiração internacional judaica que o levou a apoiar o extermínio dos judeus no Holocausto.
[5] Falha alcançaria qualquer equivoco processual e falta de análise pormenorizada dos casos deduzidos em juízo.
[6] Curso didático de direito civil. 5 edição, 2016, Atlas, p. 248.
[7] Idem, p. 248.
[8] Prescrição: alguns temas processuais a partir da sua célula material. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia.
[9] (STJ, REsp 908.599/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, j. 04/12/2008, DJe 7/12/2008
[10] Didier, 17 edição, Ed. Juspodivm, Salvador, 2015, Volume 1, p. 428.
[11] Prescrição: alguns temas processuais a partir da sua célula material. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia.
[12] Processual civil. Volume I. São Paulo: Malheiros, 2001, p.42.
[13] Lei Complementar Tributária”, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1975, p. 16.
[14] Lei Complementar Tributária”, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1975, p. 16/17.
[15] Alguns princípios constitucionais foram postos tradicionalmente pelos nossos sucessivos legisladores constituintes como fundamentais a todo o sistema e, por isso, em posição de eminência relativamente a outros. Deles, os mais importantes são os da Federação e da República. Por isso, exercem função capitular da mais transcendental importância, determinando, inclusive, como se devem interpretar os demais, cuja exegese e aplicação jamais poderão ensejar menoscabo ou detrimento para a força, eficácia e extensão dos primeiros. Diversas ordens de consideração evidenciam a posição privilegiada em que foram postos esses dois princípios fundamentais de todo o nosso sistema jurídico. Foram lógica e cronologicamente fixados como basilares, pela circunstância de virem mencionados em primeiro lugar (art. 1.º) nos textos constitucionais republicanos. São repetidos, enfatizados, reforçados, reiterados e assegurados, até as últimas consequências, por inúmeras outras disposições constitucionais. Federação, na sintética e lúcida lição do saudoso mestre Sampaio Dória é a “autonomia recíproca da União e dos Estados, sob a égide da Constituição” (Regime constitucional e leis nacionais e federais, Geraldo Ataliba. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional | vol. 3 | p. 285 – 314 | maio / 2011. DTR\2012\1065)
[16] (Regime constitucional e leis nacionais e federais, Geraldo Ataliba. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional | vol. 3 | p. 285 – 314 | maio / 2011. DTR\2012\1065)
[17] Idem.
[18] Comentários à Constituição de 1946”, pp. 185-186
[19] Normas gerais de direito financeiro e tributário e autonomia dos estados e municípios. RDP, 10, p. 49.
[20] Leis federais são aquelas que podem ser editadas, no campo próprio, pela União. Da mesma forma, nos respectivos campos, são leis estaduais e municipais as editadas por Estados e Municípios, cada qual na própria esfera de competência. Quer dizer: abaixo da lei nacional — se figurarmos um quadro de representação espacial do sistema engendrado pela nossa Constituição — estão, no mesmo nível, equiparadas, as leis próprias das diversas pessoas públicas políticas.
[21] STJ. 1ª Seção. REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012